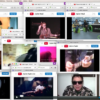Depois de lançar um single/ clipe, Zé Atunbí prepara primeiro álbum solo. Nessa entrevista ele fala sobre as mudanças e sobre como anda o hip hop.
Quem acompanha a banda Afrocidade pode ter tomado um susto com o anúncio da saída do compositor e vocalista MC DO, mas ele já vinha sedimentando um desejo de focar sua carreira musical em outras praias. No começo do ano, o artista oficializou os novos rumos e nas últimas semanas começou a apresentar as primeiras pistas de seu novo projeto. Com uma outra persona, agora assinando como Zé Atunbí, ele soltou o single/ clipe “Só De Boca” e prepara seu primeiro álbum solo.
Com 15 anos dedicados à música, sendo 12 deles na banda Afrocidade, Zé Atunbí é natural de Camaçari (BA), mas se criou na Boca do Rio, onde teve contato com a cultura Hip Hop. Nessa época, aos 16 anos, começou a circular nas rodas de MCs e a se identificar com o universo do skate. Passou a compor e rimar, e logo a participar de rodas de freestyle e de batalhas.
O menino José Macedo vidrado no Hip Hop volta a dar as caras, amadurecido, com uma trajetória bem sucedida à frente do Afrocidade e dando um novo direcionamento à carreira. A primeira mostra disso é o single “Só De Boca”, criado a partir da conexão imediata do artista com o sample co-criado por Marley Bass, seu parceiro musical, e Benke Ferraz, da banda Boogarins. O resultado é um boom bap que traz texturas de timbres do rap californiano e ganha nuances do new reggae jamaicano nas linhas de baixo.
O primeiro álbum solo Zé Atunbí, Mensageiro das Ruas, virá com dez faixas autorais, compostas ao longo de mais de uma década e deve ser lançado entre agosto e setembro. O Rap e seus sub-gêneros, como boom bap, trap, drill, grime, norteiam o trabalho, que também vai trafegar por afrobeats e R&B. No texto, ele traz um olhar pessoal para temáticas como ancestralidade, afrocentrismo, política, pan-africanismo, auto-estima, amor e tesão.
Lançado pelo selo Isé, Mensageiro das Ruas é produzido por Raonir Braz, que já assinou produções em parceria com Matuê, e que também faz uma participação na faixa “Chave”. O álbum conta ainda com participações de Pretu Vito e Lion na faixa “Vários Deram a Vida por Nós”. Antes do álbum, Atunbí lança ainda um outro single, “Cafuné”, um trap sobre a saudade.
Leia entrevista exclusiva com Zé Atunbí.
A saída do Afrocidade
el Cabong – Como foi esse processo de saída do Afrocidade e início desta carreira solo?
Zé Atunbí –Meu processo de saída foi construído a partir de anseios artísticos mesmo. Antes do Afrocidade eu participava de um coletivo de hip-hop em Camaçari e quando esse coletivo acabou, em 2010, eu tentei lançar um trabalho solo, uma mixtape. Porém, era um outro momento assim do rap, mercadologicamente falando. Acho que a ancestralidade me preparou para que não fosse naquele momento. Eu precisava viver um processo com o Afrocidade e isso fez parte da minha missão de vida com a música, porque a música, a arte, o hip-hop me foram dados como uma missão ancestral mesmo, de ancestralidade, de orixá, essas estrelas da minha vida, das nossas vidas. E eu vivi um ciclo de 12 anos no Afrocidade. Quando o Afrocidade surgiu no meu caminho, era porque de fato eu precisava viver aquilo pra me amadurecer musicalmente, me projetar e todo o aprendizado.
Só que o Afrocidade não é uma banda de rap, ele é uma diáspora musical em que cada integrante leva uma vivência com música preta. E eu venho do hip-hop, então a gente fazia essa fusão ali dentro. Nesse processo, eu nunca deixei de escrever minhas coisas, porque eu sempre tive um processo criativo muito aflorado. Eu tinha muitas coisas guardadas, desde lá da época do coletivo, de quando eu tentei produzir algo solo. O que eu construí no Afrocidade foram coisas que eu passei a construir de forma coletiva, compartilhada. Não era sobre Macedo, MC DO, Zé Atunbí, sabe? Não era sobre essa pessoa que vos fala. Era sobre um processo coletivo. Até quando eu enxergava individualmente, com a minha visão individual para trazer profundidade para o coletivo, enxergava as pessoas que ali estavam compondo o coletivo, a vivência de cada um. E, devido aos anseios pessoais, eu vim muito pro lugar de não conseguir administrar as duas coisas.
Foi um processo muito da alma, muito espiritual também. Vim investindo em mim, construindo, gravando coisas, até sentir que chegou o momento de eu seguir agora para uma nova fase da minha missão espiritual com a música. O Afrocidade, nesse ciclo de 12 anos, foi uma passagem pela qual eu sou eternamente grato. Agora, me reconecto com tudo que me formou como artista, dando continuidade ao meu trabalho, em uma nova jornada que a gente não tem controle sobre o que vai acontecer no futuro.
el Cabong – Você deixou uma banda que vinha de um processo de crescimento, com uma proposta de diversidade sonora, e agora foca no hip hop, é algo que sentia necessidade dentro da banda?
Zé Atunbí – Sim, também. O Afrocidade, por mais que ele não seja um grupo de rap, ele imprime sonoridades dentro do processo de ressignificação, da fusão dos ritmos. Então, tem uma textura. Mas eu estava sentindo uma necessidade de me reconectar com esse lifestyle e essa história que me fez ser artista. Quando eu me conectei com o hip-hop, não foi porque eu pensava, ‘vou fazer sucesso, fama’, não. Foi a mesma coisa de quando eu comecei a andar de skate, quando encontrei ali um nicho social. Eu falei, ‘é esse bagulho aqui, eu quero viver essa parada’. E o hip-hop é a mesma coisa, é a minha identidade mesmo, meu estilo de vida. Não é só, tipo assim, tá fazendo sucesso. Não, eu vivo essa parada aqui.
Então, eu senti o anseio de contar essas histórias, sabe? Sobre tudo que eu vivi com o hip-hop, que foi algo que me preparou para ser o artista que eu sou hoje, e que me formou como agente social e como ser humano. Coisas que eu não aprendi na escola, mas aprendi com o hip-hop, sobre resgates ancestrais, ancestralidade e tudo mais. Ao mesmo tempo, vem a textura sonora do rap em si e seus subgêneros, com o boom bap ali dos anos 90, aí vem início dos anos 2000 ali surgindo o trap music, e agora a gente tá vivendo o drill e senti anseios mesmo de fazer o som dentro dessa minha identidade que eu sou mesmo, que eu sou um rapper, sou um MC, muito antes de Afrocidade. Eu estava sentindo mesmo a falta de compor isso de rimar no boom bap, com sua textura sonora mesmo do rap, do hip-hop, no drill, no trap. Por mais que no Afrocidade eu trouxesse algumas narrativas sociais, que eu trago também no meu trampo, como panfricanismo, niilismo negro, que inconscientemente qualquer artista do rap quando traz críticas sociais ele já está falando sobre isso, eu também senti a necessidade de mostrar quem é, mesmo, Macedo, na sua pura consciência, de contar as minhas histórias pessoais também, colocar pra fora e tudo mais.
A nova carreira e o foco no hip hip
 el Cabong – Como você tem pensado seu trabalho, vai ter este foco maior no hip hop, mas vai mesclar sonoridades, como tem pensado?
el Cabong – Como você tem pensado seu trabalho, vai ter este foco maior no hip hop, mas vai mesclar sonoridades, como tem pensado?
Zé Atunbí –O meu foco principal é que a musicalidade do rap e a identidade da cultura hip-hop fiquem marcantes mesmo. Não é fazer um processo de laboratório musical em que o rap esteja ali como uma célula. Não. A essência maior é a identidade das sonoridades da música rap, boom bap, trap e drill mesmo. Eu posso mesclar células, principalmente de musicalidades que foram a semente para que surgisse a música rap, como a música jamaicana por exemplo.
O primeiro single lançado, “Só de Boca”, é um sample que surgiu com a estética de um boom bap, mais ali numa pegada Dr. Dre, West Coast, mas que, automaticamente, já mescla ali dessa vivência Califórnia, dos bairros periféricos da Califórnia, construídos por latinos, mexicanos, e isso já faz uma ponte com a música jamaicana, que é a mãe da música rap, da cultura hip hop. O hip hop foi construído por pessoas jamaicanas que migraram da Jamaica para os Estados Unidos, para o Brooklyn. A essência da música jamaicana é o que germina ali para que a música rap venha a existir nos guetos e nas periferias americanas. Então, meu trabalho vem totalmente dessa sonoridade rap, da cultura hip-hop, boom bap, trap, drill, mesclando com outras células sonoras. O rap é uma musicalidade que tem a sua essência, que é o corte do sample, mesclando com timbrais e musicalidades orgânicas.
el Cabong – Aproveite e fale um pouco de seu álbum, o que o público vai ouvir neste trabalho de estreia?
Zé Atunbí –O álbum surge dessa longa trajetória. Tem música que eu compus em 2010 e, de lá pra cá, eu vim pegando momentos, composições que nunca foram pro mundo e que as pessoas não conhecem, e transformando isso em música. É meio que um enredo desse tempo todo de antes do Afrocidade e durante o Afrocidade, em que, paralelamente, continuava compondo coisas minhas. Composições inéditas, pautadas pela vivência de um homem preto, refletindo sobre ‘quem é esse homem preto ou qual o meu lugar de homem preto no mundo’, sabe?
Eu falo sobre o pan africanismo, na perspectiva de nacionalismo africano, do quilombismo inspirado por Abdias Nascimento, dentro de uma perspectiva da pretitude no Brasil. A partir de um lugar de construção mesmo, da ideia de quilombos urbanos e de resgate de um processo decolonial que tentaram colocar em apagamento, e de resgate da nossa ancestralidade africana no Brasil, e da nossa ancestralidade indígena. Importante dizer que esse processo é muito recente, e pra mim ele tem que ser pertinente, intenso e constante dentro de uma luta cotidiana, porque fomos o último país a abolir a escravidão no mundo.
A cultura hip-hop veio para politizar a comunidade preta e periférica.
el Cabong – Como se deu e por que essa mudança de nome, de MCDO para Zé Atunbí? O que significa “Zé Atunbí”?
Zé Atunbí –A mudança está muito conectada com a minha transição de carreira. Vivo um renascimento na minha carreira artística e ao mesmo tempo uma reconexão também comigo mesmo, como ser humano. O MCDO surgiu na minha adolescência com a vivência do skate, da pichação. E foi um nome que viveu ali, durante a minha passagem pelo Afrocidade, e ainda vive em mim. Mas nesse novo momento de carreira e, intuitivamente, busquei algo que fizesse sentido. Estou vivendo um renascimento mesmo, uma reconexão completa, em muitos sentidos, era uma necessidade imprimir isso no momento presente. E veio então a ideia de pesquisar renascimento em Yorubá e quando cheguei em Atunbí, falei ‘é isso’! Diversos artistas de hip hop, no Brasil e na gringa, também fizeram isso de ter dois vulgos. Artistas que eu sou muito fã e admiro, inclusive, como Shaolin, que era MC Shal durante muito tempo e depois ele virou Cachorro Magro. O próprio Marechal já foi Cavalo Banguelo. Então é uma uma essência muito forte do rap ter outros vulgos.
O mercado e o hip hop hoje

el Cabong – Como tem visto o hip hop atual, que em muitas situações tem abandonado um discurso mais coletivo e de críticas sociais e abordado mais questões pessoas, de foro individual? Acredita que é natural ou o gênero tá perdendo a verve crítica?
Zé Atunbí –A cultura hip-hop veio para politizar a comunidade preta e periférica. A gente foi construído em uma sociedade em que a política que a gente defende é uma política elitista. Então, a gente fica ali, guerreando por um lado e por outro. Os Panteras Negras, por exemplo, foram uma influência política para o movimento hip-hop, assim como a Zulu Nation, Steve Biko e diversos pensamentos nacionalistas africanos e pan-africanistas que formaram essa política do que é o hip-hop, que é defender a bandeira preta, a bandeira da periferia, do gueto, do povo pobre, enfim. Eu acredito nesse viés. E o lance, para mim, está todo dentro de uma indústria. Existiu uma indústria que estava nas rádios e televisões durante uma época, que sempre foi dominante, elitista, branca, e dominava os acessos de tudo. Hoje, essa indústria foi para os streamings, para um outro caminho. Por sua vez, o hip-hop nunca morreu, ele só não está no mainstream.
Então, eu acredito que a gente tem que continuar lutando. Por exemplo, Os Racionais, aquela galera das antigas, eles lutaram pra que a gente hoje possa desfrutar de outras coisas. A gente vai continuar falando sobre críticas sociais, a gente vai falar sobre moda, mas vai ter crítica social, a gente vai falar sobre lifestyle, autoestima, mas vai ter uma crítica social. Até vocês criando as suas marcas, a gente usando fica mais bonito (risos). A gente que é preto, que é favela, a gente consegue ressignificar a própria moda. E isso já é uma crítica social.
O hip-hop ensinou a gente a ter o nosso próprio empreendimento também, poder criar as nossas próprias marcas e fomentar esse processo de empreendimento, de um capital financeiro preto e periférico. Então, a gente hoje tá podendo falar de outras coisas, mas a luta não acabou. A fome não acabou, o racismo não acabou, então tudo isso ainda existe. Na internet e nos streamings existe uma engrenagem que faz com que a música que traz uma mensagem política chegue a ter um alcance aqui. Processos de algoritmos programados para levarem a música até certo lugar. E o que vai fazer com que a massa continue manipulada é o que eles impulsionam.
Acredito muito que a indústria da música hip-hop ainda seja impulsionada muito por pessoas brancas, e isso faz com que a essência vá se perdendo. Essa própria indústria romantiza coisas que são extremamente perigosas para nós, povo preto. E vejo que o que tá vingando é justamente esse lugar que é impulsionado pelo romantismo. Romantizar o crime, a favela, a periferia, a ostentação, a violência. O processo colonial no Brasil veio de um romantismo. Os brancos sempre romantizaram a realidade do povo preto.
O processo de letramento racial é uma construção que a gente não pode cobrar de um homem preto que ainda tá lutando pra sair da fome, porque muitas pessoas ainda vivem numa condição de fome nas periferias do Brasil. Então, a estratégia que a indústria branca que tá dentro do hip-hop e do rap utiliza é a mesma do ideal opressor que sempre existiu no Brasil, dividir pra segregar, por isso eles colocam nesse lugar do individual mesmo, tipo, ‘eu sou mais foda’, ‘eu tenho mais membro’. Já o pensamento político vindo da visão ali de Marcos Garvey, Steve Biko, o Abdias Nascimento é de fato um pensamento pontafricanista, nacionalista africano, quilombista, que é de unificar para conquistar, o nosso ideal de unificação, de aquilombamento E isso nunca deixou de existir, você vê que tem uma galera que está no underground, militando, só que isso está se enfraquecendo.
O processo de letramento racial é uma construção que a gente não pode cobrar de um homem preto que ainda tá lutando pra sair da fome, porque muitas pessoas ainda vivem numa condição de fome nas periferias do Brasi
el Cabong – Como você se insere nisso e no próprio mercado musical, como encarar um momento de mainstream milionário e um universo independente com mais dificuldades?
Zé Atunbí –Acho que o caminho pode ser mais difícil para o artista que continua ali, mantendo a essência da música rap, da música hip-hop, trazendo uma verdade, sem romantizar nada. Vai ser muito mais demorado, o processo vai ser mais longo, mas também vai existir uma solidificação dessa história. Quando o cara escolhe, por exemplo, romantizar crime, violência, ostentação, ele vai ser só mais um nesse mercado.
A música é também uma forma de educar e existe nela um caráter de formação social então, se os caras estão ali falando sobre coisas que estão levando a própria periferia a consumir o mercado da elite, ele vai estar ali só levando mais dinheiro para essa mesma elite, fazendo com que esse capital rode e se mantenha mais forte ainda na mão das mesmas pessoas que fomentam essa grande indústria. Quando você entende essa forma de mercado, e como ela funciona, você passa a criar estratégias para se manter sendo você mesmo, permanecer dentro das suas verdades. No meu trabalho, trago mensagens políticas, de liberdade, mas também crio, por exemplo narrativas sobre amor, o que para um homem preto não deixa também de ser um ato político. A gente pode falar sobre as nossas relações afetivas, sobre essas trocas também.
Então, eu procuro não me apegar em uma cena que é construída totalmente à base do dinheiro. Porque, muitas vezes, não é sobre a qualidade do trabalho, tudo envolve um game que é financiado mesmo pelos interesses da grana. Eu prefiro continuar sendo verdadeiro, sendo quem sou, contando uma história através da minha música, as minhas vivências e deixar o tempo dizer mesmo qual é mesmo. Vou fazendo o meu trabalho com as pessoas que acreditam no potencial dele, da minha mensagem. E eu acho que é nisso que eu tenho que me apegar. Essa competição dentro dos streamings é algo meio adoecido, e não é algo que quero me apegar.
Quando o cara escolhe, por exemplo, romantizar crime, violência, ostentação, ele vai ser só mais um nesse mercado.
el Cabong – Li uma fala sua na qual você diz que “vê a arte como parte de um processo de cura”, queria que falasse melhor isso.
Zé Atunbí –A arte na música, do hip-hop, do rap e a cultura do skate me curaram em diversas questões. A verdade da arte tem esse lugar. Quando se tem verdade na parada, ela vai levar para um processo de cura. Tudo que eu não aprendi na escola, eu aprendi no hip-hop. Sobre ancestralidade, sobre as nossas verdadeiras histórias de luta do povo brasileiro, dos quilombos, das tribos indígenas, dos povos africanos, afro-brasileiros, das periferias. Todas essas histórias eu aprendi na música, com o hip-hop. Então, automaticamente, já existiu uma cura de um processo de colonização mental que é construído nas suas estruturas sociais, desde estado, de poder militar, de religião, do processo de uma educação eurocêntrica elitista
Existe uma estratégia que semeia tudo isso dentro da sociedade para lhe colocar dentro de uma caixa. E o hip-hop me curou de tudo isso, mentalmente, espiritualmente, fisicamente e emocionalmente. Sendo a Bahia o lugar mais preto do mundo depois de África, no hip-hop eu ouvi os caras das antigas, que vieram antes de mim no rap baiano – eu comecei a fazer rap em 2003 ali no bairro da Boca do Rio e fui criado a partir do movimento que estava muito dentro das periferias, ali no Boca do Rap – e ouvia diversos grupos de outros bairros como Fúria Consciente, Afrogueto, os caras sempre falavam sobre essa espiritualidade pulsante, essa fé que a gente tem, baseada nas religiões de matriz africana, sobre candomblé, orixá. Então você automaticamente vai se conectando, se identificando e se sentindo representado. Isso é muito rico e é algo muito pertencente ao nosso território, falando como artista baiano, da região metropolitana de Salvador. A arte veio me libertando passo a passo dentro desse contexto. E essa cura pela arte é individual e, ao mesmo tempo, coletiva. Da mesma forma como eu fui inspirado por uma galera que veio antes, fazendo a arte, eu dou continuidade.
Próximos passos
el Cabong – Você lançou um single, agora um clipe, quais os próximos passos, qual os planos na carreira?
Zé Atunbí –Eu acabei de lançar meu primeiro single, a música “Só de Boca”, que começa com um processo de pré-produção com experimentos de sample de Benker Ferraz e Marley Bass, meu irmão de música e de caminhada com o Afrocidade. Eles criaram um beat e, do beat, eu compus a letra. Aí eu entrei em processo de produzir o meu disco com Raoni, que criou uns arranjos e entrou no processo de produção da música, que depois precisou também de uma pós-produção, que foi onde entrou Ricô, baixista e produtor do O Quadro.
O clipe dessa música acabou de sair agora no dia 4 de julho. Esse trabalho teve uma produção totalmente independente com a molecada do audiovisual daqui de Camaçari. Os moleques da periferia, que fazem arte, também colaram nesse processo. Esse clipe tem uma história muito longa, já que ele começou a ser produzido em 2023 e foi finalizado em 2024. O clipe traz uma vivência camaçariense, na sua pura essência. A direção é de Pedro Severo e a edição de Luiz Henrique Suspect, que fez também a coloração do clipe. Eles têm um selo chamado Clona Take e já vêm fazendo audiovisual de outros artistas em Camaçari. Eles são super independentes, têm uma criatividade absurda, mas não têm recursos. Os próximos passos agora são lançar mais um single, que dessa vez será um love song, a música “Cafuné”, e na sequência, lançar o disco Mensageiro das Ruas no mundo.